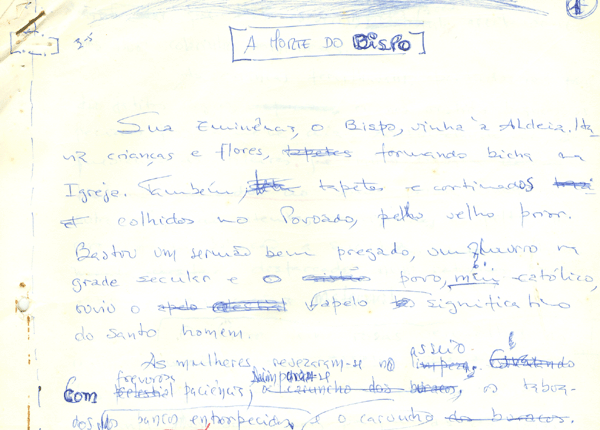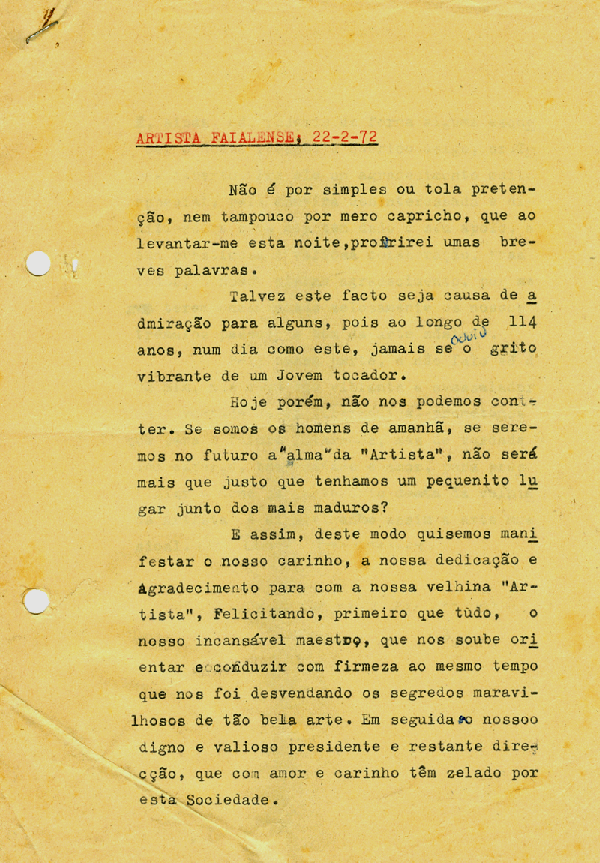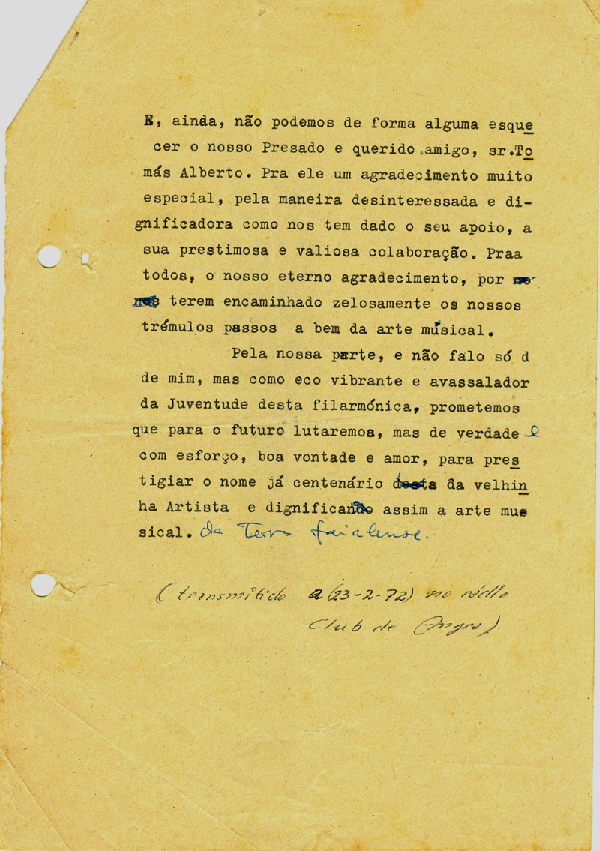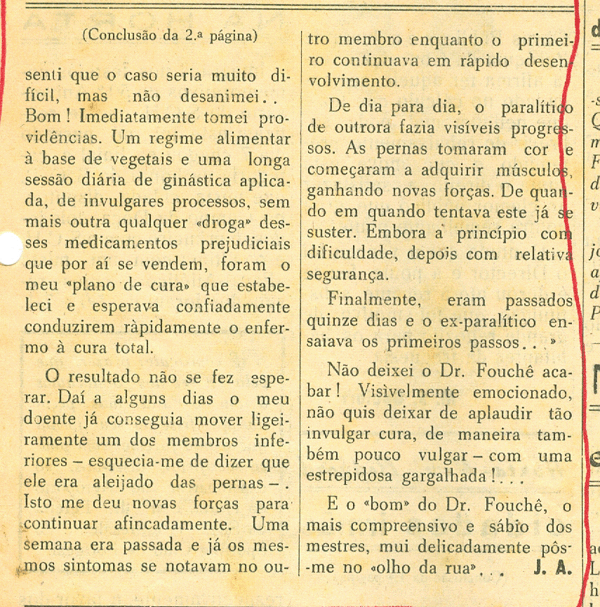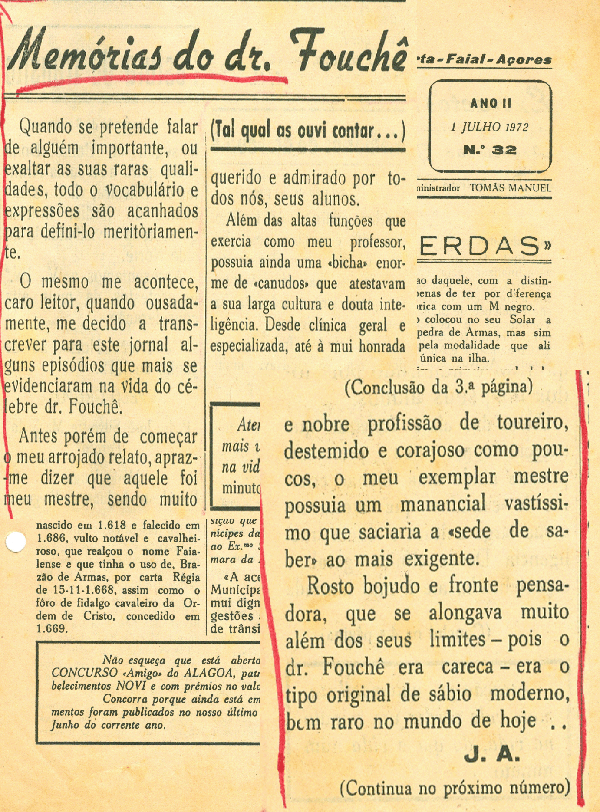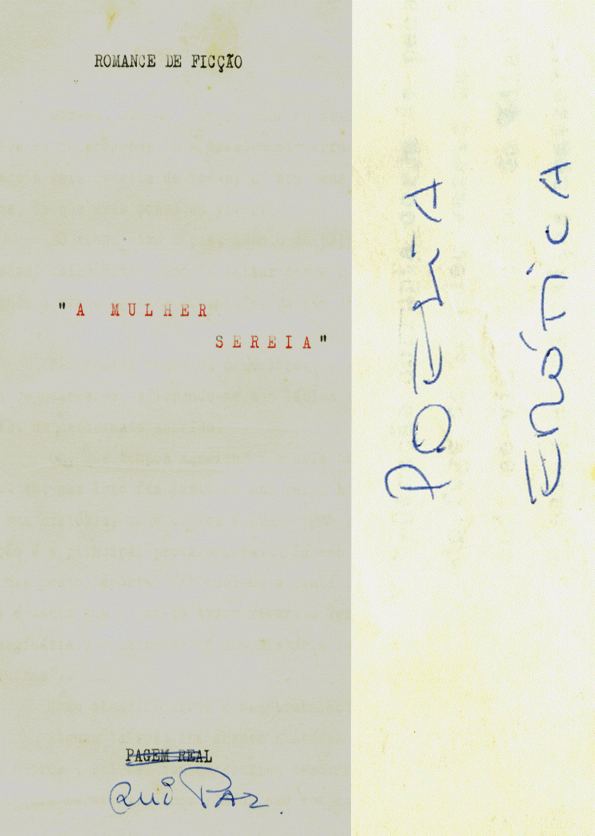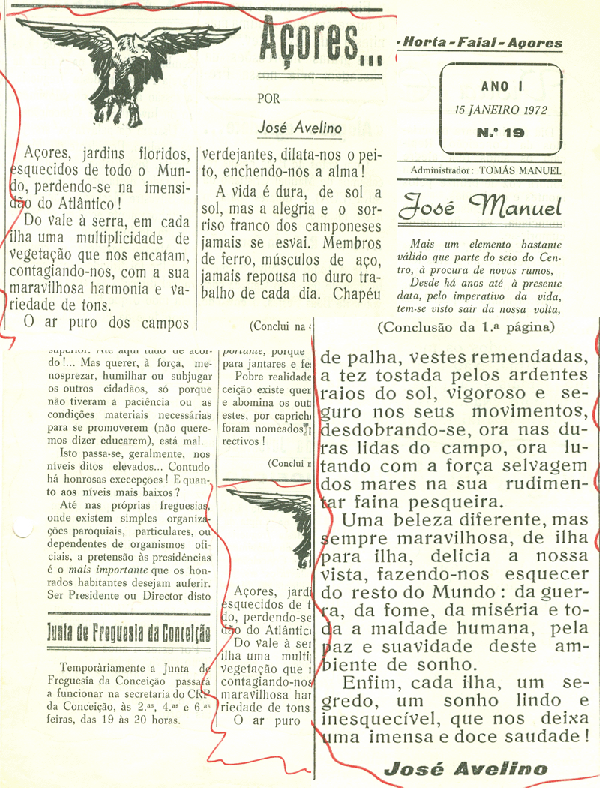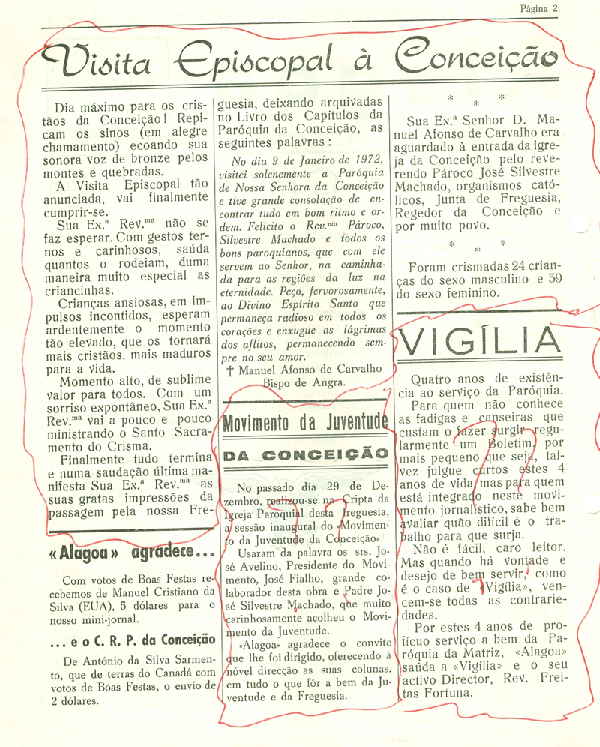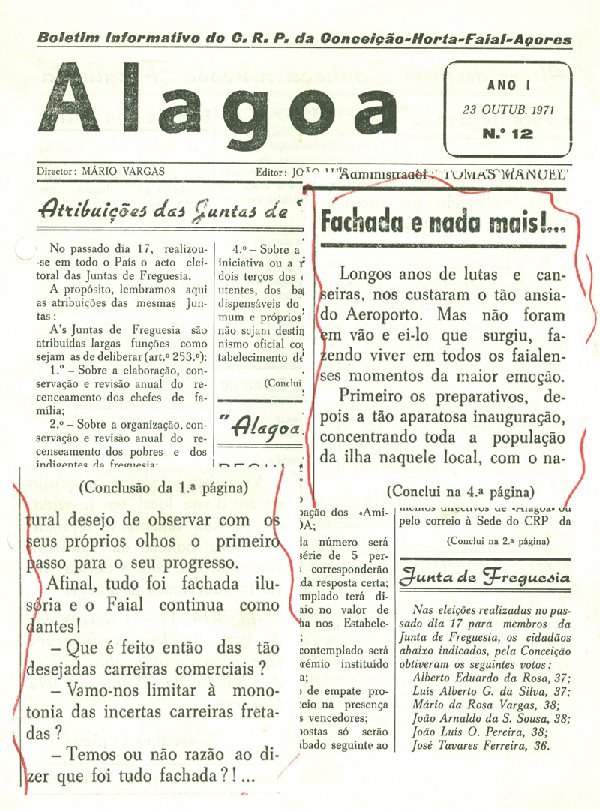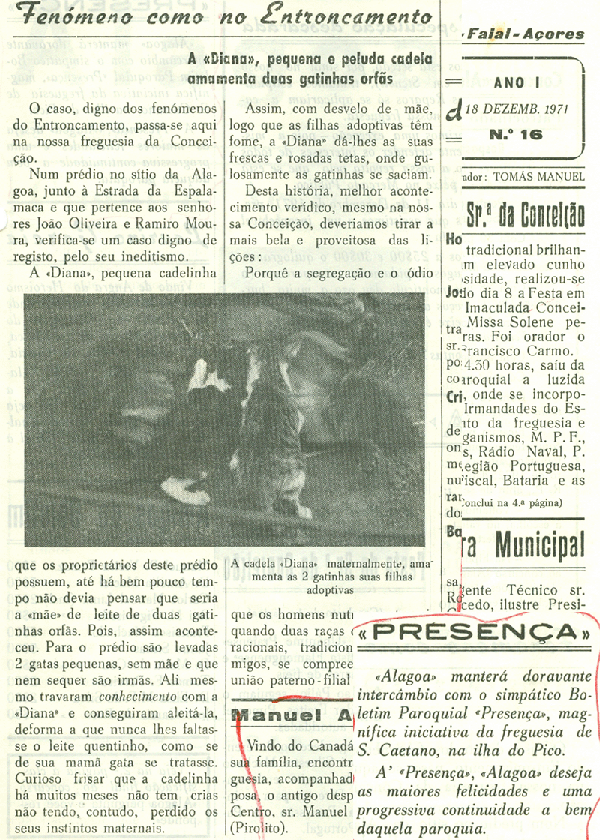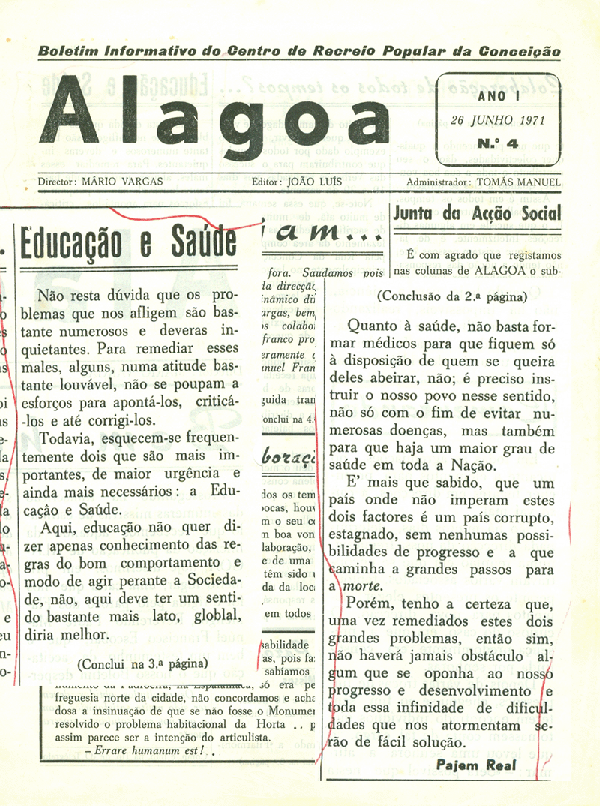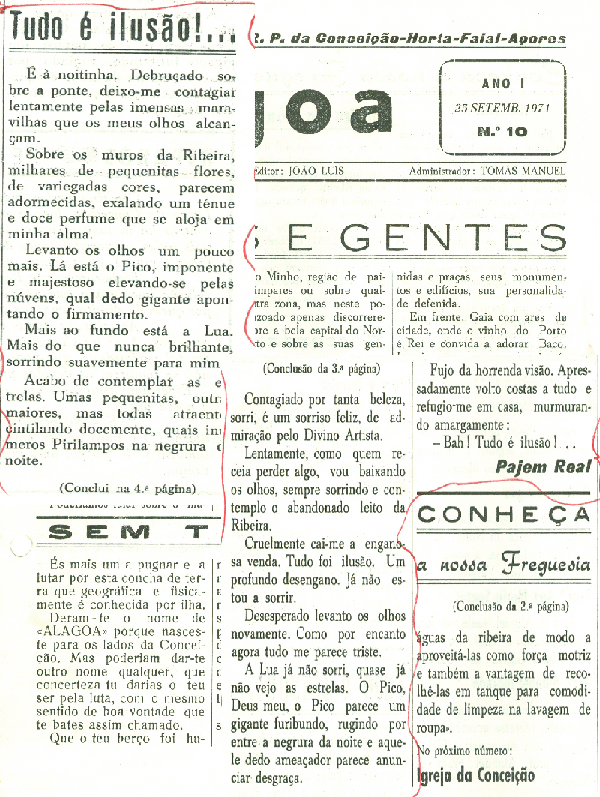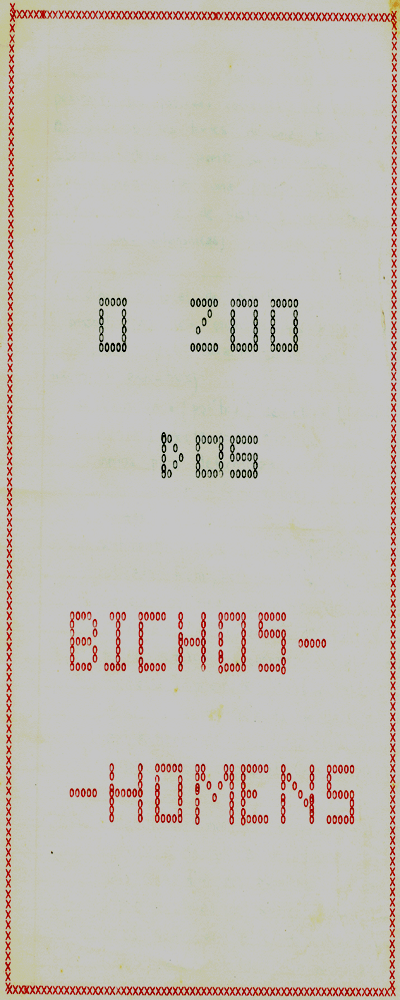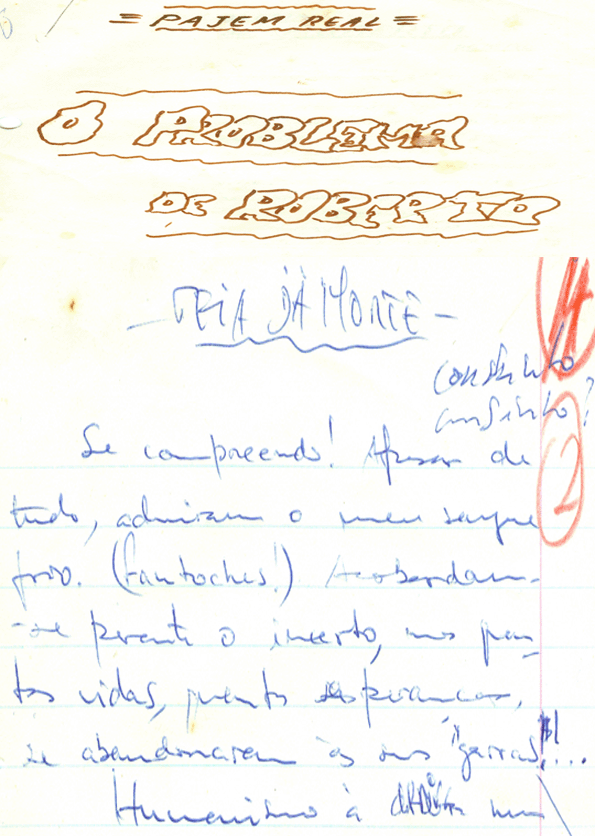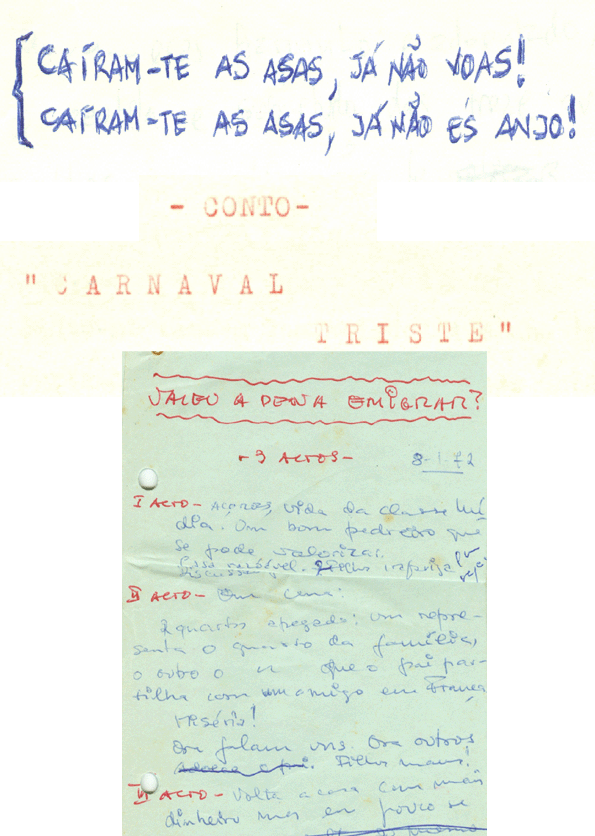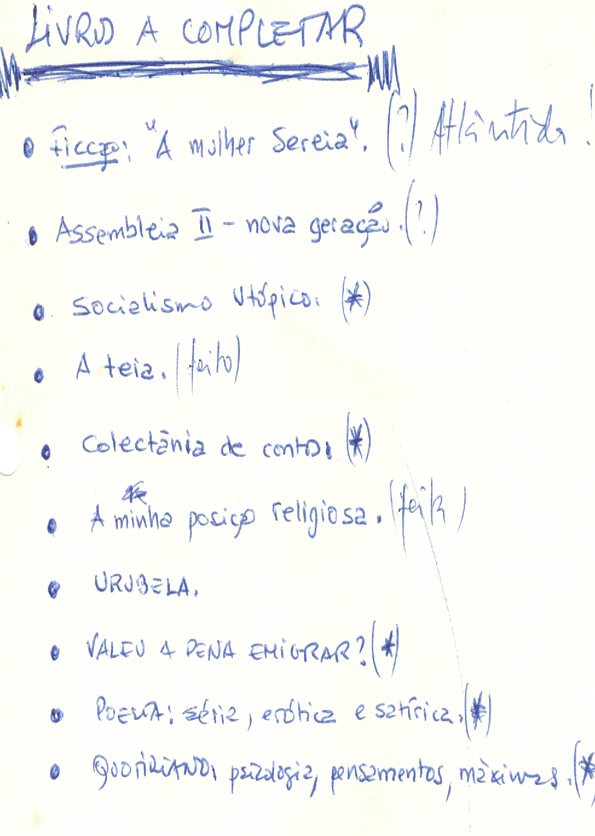2001
Diário dos Açores
14-09-2201
Vou de encontro às minhas raízes. Já sobre o Atlântico, que tantas vezes me fez sonhar, entro numa contagem decrescente que me levará a pisar o solo da Horta, após mais de 23 anos de ausência dos Açores.
Tento racionalizar os meus pensamentos, entender o impulso que me fez abrir o bloco de notas e escrever, mas sinto apenas um vazio. Uma certa angústia, é certo, mas sobretudo os pensamentos a esvaírem-se com os estalidos dos ouvidos, provocados pela altitude.
Vou a caminho. Será um regresso? Um encontro com o passado? Uma ajuste de contas comigo mesmo? Não sei responder a nada, não tenho ideia nenhuma. Apenas a vontade de escrever, talvez para matar o tempo, estupidamente perdido neste incómodo assento do avião.
..........
Vamos a metade do percurso e continuo sem saber o que escrever... Também nem um whisky para dar uma ajuda... É caso para dizer que me sinto mesmo nas nuvens, amarrado a uma cadeira de avião, a caminho dos Açores.
..........
À medida que me aproximo, começam a surgir algumas recordações, boas e más. Mas a memória foi filtrada pelo tempo, encarregando-se de soterrar as menos boas, purificando-as como o mar faz com a areia. Aquelas ondas da praia da Alagoa, que me envolveram tantas vezes num abraço violento, mas leal, ajudando a fazer-me homem.
Até agora ainda não encontrei ninguém conhecido no avião. Olho para algumas caras, como se me fizessem lembrar alguém, mas não reconheço as pessoas, nem elas a mim. Será que no aeroporto encontro algum antigo colega de Liceu? “– Olá, pá!.. Ao fim de tantos anos...”. Será que ainda se lembram de mim? E eu deles?
Sei que muitas coisas estão mudadas. As pessoas também, que o tempo não perdoa. É inexorável, o maldito tempo. Mas tanto que já não saiba quem são? Talvez não, há sempre traços, os olhos, o sorriso longínquo. Mas os nomes... Pois, os nomes vai ser mais difícil. Logo se vê...
..........
A trepidação das ilhas. Começou agora, como manifestando a inquietude de ser ilhéu, sem bem me lembro e ainda me reconheço. É um pouco como o mar, revolto, mas afável, rude, por vezes, mas também acolhedor. Reservado e reactivo, tolerante e rebelde, pronto para se afirmar. Pelo menos era assim no meu tempo e não me consta que tenha sido domesticado. É assim porque assim deve ser, amigo, companheiro, mas mantendo as distâncias.
Começou a descida. Vamos dos 10.800 metros para quase 0 de altitude. E eu dos 48 para o período em que frequentei o Liceu da Horta, só cá vindo umas três ou quatro vezes, por espaços curtos, quase apagados da memória, a última há mais de 23 anos. Imagino os amigos de então, as conversas, os convívios. Será que alguns ainda estão na ponte da Conceição, à minha espera?
A Ilha do Faial vai aparecer na janela a qualquer momento... Esta deve ser S. Jorge... Olha o Pico! Tudo verde, como as leiras que apanhava para fazer o presépio. É essa a imagem do ar. Um presépio gigante, ainda sem vida. A trepidação, a trepidação das ilhas, a anunciar a aproximação ao aeroporto. As pastagens, o recorte das escarpas, a espuma beijando as rochas, o mar lambendo a lava. A pista a correr velozmente para o fim, suficiente, sem desperdícios nem roubos desnecessários à natureza. Calor. Amolecido pelos aguaceiros que lavaram a pista e o estacionamento, quase me fazendo lembrar um clima tropical, o de Macau.
..........
Cheguei. Parece tudo quase igual ao que deixei. Pelo caminho também. Mais casas novas, as mesmas casas velhas. Ah, o novo hipermercado, a marina, o novo quarteirão entre o Faial Sport e a igreja da Conceição. A casa, a minha casa. Não a de origem, que essa ficava no Pico, mas a da Horta, a do Liceu. A subida íngreme, de umas escadas fora das normas. A casa, a casa onde comecei a pensar, a escrever, nesta mesma escrivaninha.
Tudo me parecia então grande e quase belo, agora velho e inutilmente sem função. Mas tem ainda, para a minha mãe, simplesmente porque são as coisas dela, a que está habituada. A mim, até as portas parecem estreitas, os quartos minúsculos, mas fui eu que mudei, não a casa. As coisas permanecem imutáveis, mais velhas é certo, mais usadas, estragadas, mas as mesmas que enquadraram parte da minha vida e me serviram durante mais de sete anos. Fica-me esta primeira sensação. Quase nada mudou, apenas eu, que vejo agora as coisas de maneira diferente, nem com saudades nem com desgosto, apenas de forma objectiva. Provavelmente já não conseguiria viver nesta casa, mas sinto-me bem nela, como embalado por recordações ainda vivas, mas que pertencem ao passado, ao meu passado.
À noite, percorri as ruas da cidade, da Conceição ao Largo do Infante. Tudo igual, não fora as obras de recuperação do último terramoto e o que está reconstruído ficou bem, mantendo a traça, a imagem de marca. Mais uns restaurantes, comércio, mas de resto tudo lá está, no seu devido lugar, como eu queria que estivesse, para que as minhas memórias não fossem em vão. Para que as recordações fossem exactamente as que queria recordar. O Teatro Faialense, infelizmente ainda fechado, o coreto da Praça da República, onde tantas vezes toquei com a Artista Faialense, os Bombeiros, o Mercado, a Polícia, a Matriz, a Câmara, O Telégrafo, onde trabalhei um mês como revisor e proto jornalista, a tabacaria dos livros, o café dos pequenos almoços, o Liceu. Nem um centímetro se afastaram do lugar, onde sempre estiveram. E era isso que eu queria ver e sentir.
Dizem que vai haver música na Praça do Infante, apesar dos aguaceiros que ameaçam. Lá estão os músicos da filarmónica, espalhados, alguns nos bancos do jardim, com as mulheres ou namoradas. Pois, gostava de ouvir, mas não é a Artista Faialense, é outra. Ainda se fosse... Matava saudades dos tempos em que, com aquela farda azul escura de botões polidos e sapatilhas brancas, andava pelos coretos e estrados improvisados a abrilhantar festas. Quase sinto nos lábios e nos dedos o clarinete novinho em folha. Os momentos em que perdi a noção da realidade, deixando-me contagiar, conduzir, pelo som da filarmónica, como se estivesse num mundo irreal, o meu mundo. Era quando a pauta deixava de ser necessária. A música surgia de dentro, provocando arrepios, transcendendo. A música era como que o sopro de cada alma, que o maestro refreava para manter a harmonia. E o toque da alvorada, em cada dia 1 de Dezembro, em que não se dormia... Às cinco da manhã lá íamos tocando o hino da restauração (Ó ti Zé das barbas brancas... ), colando umas campainhas nos intervalos, como que para despertar os de sono mais pesado. Era assim, nesses bons tempos, de vivências despreocupadas, de poucas apostas no futuro, apenas vivendo o dia a dia, contando com as coisas nos seus lugares.
Mas nem sempre é assim. A maldita actividade sísmica, de vez em quando, resolve despertar, revolver a terra e fazer as coisas caminharem mais depressa para o seu fim. Obras, obras por quase todo o lado. Recuperando, reconstruindo, devagar. Demasiado devagar para reconstruir a memória, as minhas memórias. Raramente adulteradas, mas são as concessões ao progresso, à funcionalidade. Não é isso que está mal, os meus olhos é que ainda vêm o passado, queriam ver tudo como era dantes.
15-09-2001
Visitei a campa do meu pai. Pensava poder comprar flores perto do cemitério, como em Lisboa, mas não. A minha mãe, precavida, trouxe um ramo artificial de casa. Foi essas que lá coloquei, na campa do meu pai. “Á memória de... da sua mulher e filhos”. Não sabia. Não sabia que deixara de se filho único. E não deixei, ao que parece. Enganaram-se, acho. Que eu saiba, e pelos vistos a minha mãe, que mandou fazer a lápide, o meu pai só teve este filho, eu. Se outro teve, não me importaria de os conhecer, mas não, é mesmo engano.
A fotografia do meu pai, ainda com alguma juventude. É a de um homem bonito, sensível, o pai que eu tive. Quase não conversei com ele, mas não me senti desiludido. A verdade é que não gosto de conversar com campas, nem com fotografias. Prefiro fechar os olhos e sentir que ele me escuta, que ouve os meus pensamentos. É assim que gosto de conversar com o meu pai. Como o faço agora, escrevendo. Sentindo que esta energia que somos passa para além do físico, viaja para além da imaginação, transportando-nos para uma dimensão dos sentidos.
É assim que gosto de conversar com ele, o meu pai. Tal como ele conversou comigo, no momento da sua morte. Não sei o que queria dizer-me nos poucos segundos em que pode voltar a sua energia para mim. Eu não entendi logo, senti-me mal disposto apenas, sem razão aparente. Mas daí a pouco veio a confirmação. O meu pai lembrou-se de mim na hora da sua morte.
A Artista Faialense. Agora instalada junto à igreja da Conceição. Bem diferente do barracão nas imediações da Torre do Relógio. Mas foi lá que aprendi a gostar de música e a entendê-la. Já ninguém conhecido, mas o mesmo espírito de outros tempos. Um jovem, ensaiando tuba, prontificou-se a mostrar-me as instalações. E depois lá veio o vice-presidente reavivar as memórias com fotografias e nomes. Acho que me encontrei numa delas. Devia ser, de clarinete na mão, em pose, no meio de caras conhecidas. Imperdoável não recordar nomes, mas que se podia esperara ao fim de tanto tempo...
16-09-2001
Imaginam o que é estar a falar animadamente (pelo menos tentando...) com quatro pessoas, como se fossem velhos conhecidos, sem nos lembrarmos rigorosamente de quem são? É quase patético, constrangedor. A todo o momento sentimos que nos vão topar, entender que estamos fingindo, como um actor que não sabe o papel, metendo buchas nas deixas dos outros. Nem caras, nem nomes, nem nada.
Mas eles sabiam quem eu era, chamaram-me ao longe, pelo nome. Eu fui, abrindo um sorriso largo, dispensando beijos e abraços. Que vergonha! Mas não me descosi. Não podia. Ficaram ofendidos, pensei. Não sei se se aperceberam, mas a conversa foi fluida, inflectindo, por vezes, por imposição minha, não fosse o diabo tecê-las. Virei o jogo para o meu terreno, onde sabia que não haveria lugar a fífias. Sim, porque um deles fora meu colega na filarmónica. Até sabiam que tinha andado por terras do Oriente, imaginem. Coisas da minha mãe, claro. Falou-se de África, a propósito do tempo e da proximidade de um tufão. Fiquei a saber que não sabiam onde ficava Macau, nem isso interessava também. Admirou-me mais haver tufões por aqui. Julguei que lhe chamavam furacões, mas a globalização tem destas coisas.
Lá nos despedimos, como velhos companheiros. E lá veio outro. Esse sim, lembrava-me bem. Do rosto, do corpo avantajado, apesar da diferença de idades. Agora foi ao contrário, o que me causou algum sossego, uma sensação de empate técnico. Bastante mais velho, o antigo colega foi relembrando. Falámos do passado, recordando momentos, pessoas, até o nome do outro com quem acabara de conversar, forçado por mim, num surto momentâneo de falha de memória.
Não seria o único momento de constrangimento que se me iria deparar. Nesse mesmo dia, outras pessoas iriam fazer-me pensar que a minha memória estava a necessitar urgentemente de uma dose maciça de fármacos de actuação rápida. Mas afinal, não estava tão mal assim. – Se te visse sozinho não te reconhecia, mudaste de feições e estás mais gordo! Claro, se não estivesse com a minha mãe sabiam lá quem era. Nem eu sabia quem elas eram também, claro. Agora essa do mais gordo... – Um pouco mais de barriguinha, ia dizendo.
17-09-2001
Dei a volta ao Faial, num carro emprestado por uma amiga da minha mãe. Até aqui nada de especial, a não ser a simpatia dela e do marido, gente sã, como devia ser toda a gente. A novidade é que foi a primeira vez que percorri o perímetro da ilha de seguida. Tal como só dei a volta do Pico nas mesmas circunstâncias, muito anos depois dali ter saído.
Relembrei nomes curioso, como os Espalhafatos, revisitei locais de sempre como os Capelinhos, impressionando-me ainda com a paisagem e o farol, quase intacto, ao lado de ruínas de casas completamente soterradas, e o Porto Pim, em dia impróprio para conviver com o mar, no segundo dia daquelas fúrias que lhe dá, vá-se lá saber porquê. Os respingos desfocaram a objectiva da câmara de vídeo por completo, que mesmo assim registou aquele rugido, não de fera ferida nem da agonia das baleias outrora lancetadas, mas de inquietude.
É isso. Nem raiva nem fúria, inquietude. É assim o mar dos Açores, o meu mar. Até hoje nunca pensei porque ficava assim, mas agora penso que padece do mesmo mal que os açorianos. Nós sentimo-nos rodeados de mar, ele sente as ilhas dentro de si. Acho que ralha com elas, não porque não as sinta como filhas, mas apenas para se fazer lembrado. Talvez mais até para o contemplarem, como eu e muita gente fazia hoje. São rebates de melancolia, de quem só não é esquecido se não fizer sentir a sua presença, do modo que o pode fazer. Lambuzando as rochas, respingando para as estradas, gritando: “- Sou eu, estou aqui!”
É assim o mar dos Açores, o meu mar. O amigo com quem bailava, uma espécie de valsa. Um, dois, três. Um, para dentro, com a vaga. Dois, virando o corpo, dobrado. Três, para fora, com o refluxo. Pelo caminho, lapas, lapas, que iam saltando da ponta do lapeiro de chumbo e que iam enchendo o saco pendurado da cintura e fazendo pesar o corpo, cada vez mais. Era uma dança quase mágica, de contorcionismo, roçando a ponta das rochas submersas. Marcas de um amor, mais de paixão, mais de compulsividade, como acto de teste aos limites. Do racional, do físico, mas inebriante, quase inconsciente, numa masturbação de orgasmos múltiplos em que a espuma era o sémen e o respirar fora de água o retomar de novo coito, até as forças acabarem. Até o saco das lapas pesar demasiado.
Mas havia também os polvos. O bucheiro curto, à cintura, feito à medida, lá estava, pronto para acompanhar o olhar sempre atento a um possível acréscimo da faina. Um buraco típico, um raio mal escondido, eram o sinal. Escarafunchar, empurrar, puxar. E com sorte, lá vinha ele, esbracejando, preso no anzol, despejando a tinta. Rumar a terra, batendo as barbatanas era agora imperioso, para lhe virar o capucho. Pelo caminho, convinha mantê-lo à distância, não fosse agarrar-se ao corpo.
Lapas e polvos. Mais lapas que polvos, claro. Um modo de ganhar uns trocados, para um miúdo sem posses. Quando outros estavam na praia, refastelados, percorria a costa da Espalamaca quase até à praia do Almoxarife, nadando, mergulhando, apanhando lapas, caçando polvos. Demorava horas, descansando, por vezes, nas rochas. O Senhor Cardoso contava com o meu produto. Contava e não contava, porque sabia que só uma ou duas vezes por semana eu aparecia com os petiscos, sem dia certo. Quando me faltava o dinheiro. Mas comprava sempre, mesmo que já estivesse abastecido de outra fonte mais certa e segura. Isto era apenas no verão, quando tinha férias e estas eram para gozar. Lapas e polvos eram também prazer, mas tão intenso não convinha ter todos os dias, senão passariam a obrigação.
|
|
Nem todos os verões foram assim. Passei pela fábrica da conserva, até ficar farto de atum. Durante anos nem pude ver as latas. Trabalhei também no O Telegrafo durante pouco mais de um mês, como revisor e não só. No não só ouvia as notícias, seleccionado as mais importantes para a terra e aprendi a tesourar um cardápio de curiosidades para encher ou chouriçar o jornal. Religiosamente, todas as tardes, tinha de saber quantas toneladas de atum haviam sido pescadas, para actualizar o ranking das traineiras, nem sempre bem gerido com justiça e equidade, face aos predicados vocais do meu ex-patrão, o dono da fábrica de conserva, continental. E ainda tinha o tempo, que lá tive de inventar umas quantas vezes, modificando ligeiramente a previsão do dia anterior, também por dificuldades de comunicação. Não sei se errei ou acertei mais vezes que o serviço oficial, o certo é que ninguém se queixou. Pelo meio, fiz uma reportagem e algumas notícias locais. De revisor de provas, estava quase arvorado em jornalista. Mas a praia, o sol, o mar não se compadeciam com um futuro tão promissor.
Foi aí que resolvi que férias eram para descansar e se pode sempre aliar o útil ao agradável. Com o pagamento de revisor e jornalista improvisado, comprei máscara, barbatanas e fundi o meu próprio lapeiro num molde de areia. Um serralheiro conhecido fez o favor de soldar o anzol a uma haste de ferro, mais curta que o meu braço, com uma orelha na outra ponta, donde saia um cabo de naylon de metro e meio, para manter à distância algum polvo de maiores dimensões. Era o meu bucheiro. E assim me fiz apanhador de lapas e polvos, passando a ter uns trocados no verão, sem desperdiçar sol e mar. Do Faial ao Pico, incrementando o negócio, nas festas de S. Mateus. Numa delas, dei tanto dinheiro ao Santo que quase me arrependi do prometido. Mas promessas são promessas, claro.
Hoje, ao ver o mar, assim revolto, ao recordar as muitas valsas que dançámos, acho que fiz tudo isso por paixão, mais do que por necessidade. Bravo, manso, inquieto apenas, é o mar dos Açores, o meu mar, onde queria sentir-me de novo embalado, conduzido naquele baile descontínuo, moldado à corrente e às rochas, esquecendo o tempo, enchendo o saco das lapas, de memórias, de imaginário, das recordações que me envolvem neste regresso às origens. Parece-me que o mar está zangado apenas comigo, com o filho pródigo, que se esqueceu de lhe prestar vassalagem durante tanto tempo.
Filho que também navegava por ele, com uma chata transformada em embarcação à vela, esta cosida na máquina da minha mãe. Tão artesanal que o Capitão do Porto, de braços cruzados, olhava-me quase incrédulo, a ver-me aparelhar aquela engenhoca. Içar a vela e o estai, por um processo pouco ortodoxo, voltar a chata de lado para fixar o patilhão de metal na quilha, empurrá-la para o mar, até ter profundidade suficiente para endireitar aquela coisa e só depois saltar para dentro dela e rumar a meio da doca da Horta, devia fazer tilintar na cabeça do homem, puxando da sua sabedoria náutica, a vontade de apreender a chata e mandar-me para casa. Mas não, nem dizia nada, apenas olhava. “ – Coitado do rapaz, é maluco, mas tem tanta vontade e engenho que não tenho coragem... “, devia concluir. Mas a verdade, é que o raio da chata navegava. Mal, mas lá ia da doca até à praia da Alagoa e voltava. Até os lusitos da Mocidade Portuguesa gozavam com a tartaruga. Também como podia andar mais depressa se, mesmo após mais de uma semana de diligente calafetagem, continuava a meter água e a solução foi mesmo encharcá-la de alcatrão... Se era pesada mais pesada ficou, mas navegava, isso ninguém podia negar, nem o Capitão do Porto.
Tudo me era permitido então, porque estava no meu mar, o mar dos Açores. O mar que agora está zangado comigo e que nem ao Pico me deixa ir. E tem razão. Não lhe paguei o tributo devido. Não soube, na minha ausência, render-lhe homenagem. Não soube manter as minhas raízes. Perdi os elos, o contacto. E não há nada pior do que perder o contacto com o mar dos Açores. Passamos a ser continentais, estrangeiros. Tem razão o mar dos Açores, o meu mar. É natural que agora não me deixe ir à minha terra. Já o contemplei hoje, várias vezes, registei o seu desagrado, nas vagas e nos murmúrios, para nunca mais o esquecer. Mas deve estar à espera que ainda vá à praia da Alagoa, já sem areia, mergulhar às lavadias, brincar com ele, retomar as danças inacabadas, para me envolver na sua espuma, como se estivesse a ler as minhas impressões digitais, certificando-se da minha autenticidade. “- Demoraste, mas aqui te tenho de novo, diferente, mas igual. Mais velho, mas o mesmo. O mesmo rapazinho que deixava desafiar-me e por isso protegia da insensatez. Mais pesado, menos ágil, mas o menos rapazinho solitário, tão solitário como eu.. “. E lá fui. Não meter-me nele, mas apenas conversar, vendo-o entrar pela ribeira, fazendo-a correr ao contrário, como se me cumprimentasse, como se me respondesse e perdoasse.
Acredito agora que, vencidos fantasmas, foi um reencontro de velhos amigos. O mar do canal vai deixar-me ir ao Pico e regressar ao Faial com destino a Lisboa. Porque é de novo o meu mar, o mar dos Açores.
18-09-2001
Começo a ficar cansado de tanto andar a pé. Mais cansado ainda de encontrar gente que fala comigo, como se não nos víssemos desde a semana passada. Cansado não dos reencontros, mas do esforço que vou fazendo para descobrir na memória lembranças que não encontro. Como se tivessem sido apagadas, filtradas não sei com que critérios. Noutros casos, as recordações saltam em catadupa, como se as estivesse a viver hoje. Talvez por ter privado mais com uns do que com outros, por ter gostado em especial de alguns. Mas esses não são muitos, e deles recordo-me bem. Os outros é mais fácil lembrarem-se de mim, até porque agora sou uma avis rara, de arribação tardia.
Essa ideia conforta-me. Afinal não tenho a memória tão desfragmentada. Apenas foi gravado em primeiro plano o que tinha mais força. O resto vai sendo procurado com alguma lentidão e nalguns casos com busca sem resultados, como montando um puzzle a que faltam peças essenciais. Mas é normal à distância de mais de 23 anos. Se ficasse por cá mais algum tempo poderia completar esses puzzles, mas não, vão permanecer inacabados. Mas isso deixou de me preocupar. Apenas quero saber daqueles que a minha memória não esqueceu. Mais do que um desejo é uma necessidade, de reencontro comigo mesmo, de retoma de velhas amizades.
Este reencontro com as minhas raízes só agora começou. Amanhã vou ao Pico, num só dia. Sei que vai ser de loucos. Tias, tios, primas, primos, sei lá... E já há filhos das primas que eu nunca vi e a elas nem sei se ainda as reconheço. E um afilhado que era um puto, a última vez que lhe fiz uma festa na cabeça. Vai ser bonito vai. E cansativo, mas agora que o mar me deu tréguas, sei que vai correr tudo bem. Mas já estou desejoso de chegar ao fim da tarde de amanhã, para me sentar nesta mesa e escrever para mim mesmo, a reencontrar-me.
Agora falam de cagarras na RTP Açores. Medias de protecção. Lembrei-me de imediato das caminhadas nocturnas pelo Caminho de Cima, em S. Caetano, da casa da madrinha até à minha casa. Uns bons quilómetros, acho. A maior parte das vezes sozinho, um puto da escola primária, sem vivalma à vista, temendo as sombras do luar, sempre a correr. Sempre a correr, pontapeando as pedras, não caindo por quase milagre, em frequentes desequilíbrios.
Mas era ao começo da noite que as cagarras apareciam, nalguns dias, voando sobre o caminho de cima, numa algazarra típica, quase roçando as cabeças. Um cenário digno de Hitchcok, com a diferença de que as cagarras apenas pareciam divertir-se ou querer afastar-se das fúrias do mar, vendo-lhes o recorte, agitadas, no lusco-fusco das noites de lua encoberta. Essa é uma das lembranças que nunca mais vou esquecer. Como de observá-las nos ninhos, nas rochas do porto, agora inquietas pela nossa presença, preservando as crias. Sei que não vou encontrá-las, mas essa memória já não necessito de recuperar.
|
|
19-09-2001
E lá fui pelo canal. Desta vez não na Espalamaca mas no Expresso do Triângulo, um navio rápido, pelos vistos importado em segunda mão de algum país nórdico, a adivinhar pelos avisos afixados. Ninguém se deu ao trabalho de cobri-los com autocolantes que dissesse “Proibido Fumar”, “Saída”, “Colete Salva Vidas debaixo do banco”. Ora, toda a gente sabe isso, e sempre dá um certo ar de cosmopolitismo... Mas é rápido e cumpre a ligação Horta – Madalena em cerca de 15 minutos, muito distante da hora que então se levava. O mar do canal, consagrado por Nemésio, estava mexido, mas longe da braveza dos dias anteriores. E também, mesmo com um ar condicionado pouco eficiente, nem dava tempo de pensar no enjoo.
A Madalena, o meu concelho, de porto novo, com águas calmas, longe dos tempos em que a lancha da carreira parecia quer subir para o cais ou sair disparada para a rampa de varagem, com os cabos de corda a ranger nos cepos, ameaçando estalar a todo o momento. Os homens da lancha a agarrarem os passageiros que voavam para o cais ou para a cabina. Sim, muito longe desses tempos. A Madalena não está muito diferente, mas dá ares de uma vila que beneficiou do progresso.
À espera um primo, com uma carrinha emprestada de outro primo da Horta. Dá algum jeito ter tanta família. Primeira paragem nas Sete Cidades. Tia, prima, primo. Não demorei, com a promessa de retorno ao fim da tarde pus-me a caminho, reconhecendo cada aldeia, povoação, sentindo o rolar macio dos pneus sob um asfalto recém derramado. A terra do meu pai, Marateca. S. Mateus, com incursão na zona da vinhas. Prima, primo, homens a vindimar. Dois primos e o meu padrinho. Num dos quadrados de paredes de lava, dos muitos a perder de vista que protegem as videiras. Beijos, abraços. Um Chardonney, às 9:30 da manhã. Saboroso, macio, orgulho do primo cuja idade não o impede de continuar apaixonado pelo trabalho da terra. A primeira garrafa de presente, colheita do ano passado.
Com o meu padrinho a bordo, retomamos caminho. É já a seguir a nova paragem. S. Caetano, Caminho de Cima. Madrinha, primas, filhos. Calcorreio com o padrinho até ao cimo daquela parte da estrada, agora diferente. Casas e estrada. Casas novas, erguidas sobre memórias ou reconstruídas. A estrada alargada, com asfalto fresco. A mesma, então de terra batida, repleta de lajes nascidas do chão, por onde descia nos carros de manivela improvisados na casa da atafona. Aquele caminho por onde descia aos solavancos, lutando com o muro da última curva que me ficou com parte da pele e alguns cabelos. Mas lá subia de novo, rebocando o carro, descendo vertiginosamente, com para provar a esse inimigo que não era obstáculo para me vencer.
Ainda é cedo para o almoço. Tempo para percorrer todo o Caminho de Cima, agora de automóvel. No meu tempo não era assim, só carros de boi por ali passavam. As distâncias parecem-me agora mais curtas. Logo ali, o serrado, onde sachei e abarbei com o meu pai, à porfia, como se fosse uma competição. O meu pai sabia levar-me. A minha casa, a casa onde nasci às 11 horas da manhã do dia 17 de Junho de 1953. Foi remodelada. Acabaram com o tanque da água, a sua marca. A água que adorava, fresquinha, bebida num púcaro de alumínio. Devia ser proibido mudar as coisas património de um homem. O meu património. Filmei-a como se filmasse qualquer coisa, por curiosidade. Nem um pedaço da minha alma senti para além daquele portão. Nem este era o mesmo. Desci rápido pela rua abaixo, sem ligar ao casario que a ladeia. Pouco ouvia dos nomes que a minha mãe ia desfiando, como o terço escorre pelos dedos todas as noites. Não vi ninguém, nem parei para me verem. Não tinha mais vontade de ficar por ali, como se fosse um romeiro perante as ruínas da sua capela de devoção, sem imagens para adorar. Talvez também já não fosse dali.
De novo pela estrada principal, até à Prainha do Galeão. Prima, ofertas. Pão de duas farinhas, bolo, queijo. Mais uma etapa, agora o porto. Claro que o tinha de visitar. Igual, apenas mudado nas proximidades. O cais, onde apanhava peixe. Carapaus, peixe rei, castanhetas, sargos..., com isco de figo. Lá estava, lambido pelas ondas. Ah, se o mar não estivesse ainda tão rebelde, descalçava os sapatos, arregaçava as calças e apanhava algumas lapas. Mas não, o mar ainda está sisudo, comigo. Deixa para lá, há-de passar-lhe. Na volta, nova paragem, junto ao antigo caminho do porto. O meu afilhado, coberto de pó da retro escavadora, lá veio. Reconhecia-o em qualquer parte. Tem a cara do pai, falecido há muitos anos, mas que guardo bem na memória. Um baleeiro, um homem de tronco e braços fortes, rijo como os antigos homens do Pico, que caçavam o cachalote.
Regresso ao Caminho de Cima, casa dos meus padrinhos. O almoço já cheira. Galinha frita, linguiça, inhames. Ninguém reclamou de ter comido pouco, coisa habitual por aqui. Comi mesmo de mais. Então linguiça e inhames... Não, sobremesa nem pensar. Mas, que remédio, perante a firmeza do mando da madrinha, avolumando, irremediavelmente o pecado da gula. Pena que não tenha havido lapas e caranguejos, mas o homem a quem o padrinho havia encomendado os petiscos fora peremptório: “- Desculpa lá, mas não vou arriscar morrer para contentar o teu afilhado!”. Paciência, fica para o ano. Talvez que o mar tenha a sua fúria mais apaziguada. Porque me quer dentro dele, eu sei, e faço-lhe a vontade com gosto. Até disse ao meu afilhado: “- No próximo ano, vamos os dois às lapas!”.
O café, tomado onde ainda são os correios da terra, mas num edifício totalmente modificado, em que a fachada foi conservada. Um mini mercado, com um pouco de quase tudo, até roupas. O dono andara pelo Canadá, reassentando arraiais na origem. Não se lembrava de mim, nem eu dele. O que não impediu a conversa amena. Chegou a mulher. Olhou-me por momentos... “- Tu não és o...?”. Era, E também me lembrei dela, vagamente. Mas uma conversa destas é como uma terapia de reavivamento. Coisas de que já nem me lembrava, nunca mais lembrara. E veio outra, outro, outra..., até sentir a cabeça a esvair-se, com se, apesar do almoço e do café, a memória acesa gastasse demasiadas calorias. Mas senti-me bem, comigo mesmo. Talvez por entender que não fora esquecido. Porque o retomar das minhas raízes só teria sentido se tivesse eco na memória dos outros. E tinha. Senti-me reconfortado, tranquilo, bem comigo mesmo.
De volta a casa dos padrinhos, desfiando mais memórias, recordações. Coisas com piada, que nunca soubera ou em que nunca pensara. O pando no dedo, enrolado pela madrinha, para não chuchar no polegar esquerdo. Sempre repudiei a chucha. Seria sintoma de rebeldia, de auto insuficiência, de timidez? Sei lá, tinha as suas vantagens, ia desculpando-me, não caia ao chão, estava sempre à mão e era meu... As papas de milho, com ovos, todas as manhãs. Um martírio de anos... e nem os milhões de engulhos faziam comover a minha madrinha. Sim, porque passava muito tempo com ela, enquanto a minha mãe fazia costura por fora. Foi uma segunda mãe, eu sei. Só quase a deixá-los me apercebi de quanto o meu padrinho e a minha madrinha, apesar dos setenta e tais anos, são pessoas bem dispostas, divertidas, felizes. Disse-lhes isso mesmo, não como constatação, mas como homenagem. “- Leva esta fotografia, para te lembrares de nós!”. Acho que perdi, perdi muito mantendo-me tanto tempo afastado deste convívio. Só agora entendo isso. Mas tal como o mar, a madrinha sorri, aparentemente com boa disposição, quando me referia à intenção de voltar no ano seguinte, com mais tempo. “ – Se levaste 23 anos para voltar, da próxima já só nos encontras no cemitério.”. Não sei ainda se ela tem razão, mas a verdade é que fiquei com vontade de voltar, agora que reencontrei as minhas raízes, me reencontrei comigo próprio. O meu adeus é de quem quer voltar, enquanto arrumo mais ofertas no carro. Duas garrafas de angelica, restos do almoço, um naperon de renda com a ilha do Pico, um quadro, também de renda feita por uma das primas. O beijo, soprado na mão, já a caminho.
De volta às Sete Cidades. Tia e primos. Um breve passeio, mais ofertas. Verdelho, Cavaco branco. Vou abastecido de vinhos. Como levo tanta garrafa no avião é que ainda não sei. Até um saco de batatas. Fui de mãos quase a abanar e quase não consigo carregar tanta coisa. E falta a garrafa que me deram em S. Mateus, esquecida em S. Caetano.
O rápido, passando os ilhéus. De regresso à Horta, por volta das seis da tarde. Programa cumprido, à risca. Não tenho ideias, apenas cansaço. De levantar tão cedo, de um dia preenchido, sobretudo de emoções muito fortes. Voltar. Voltar é agora é a única ideia, quase fixa, no meio de um cérebro meio apagado. Acho que sentia medo. Medo de reatar elos perdidos. Receio de que me recebessem com indiferença. Medo, medo de ter perdido para sempre as minhas origens. Mas não, senti-me bem. Como se recuasse 23 anos, como se nada tivesse mudado. Claro que mudou tudo. Mas eu tinha de sentir isso, para me reencontrar e recomeçar. Agora sei que estou pronto. Para recomeçar tudo, não de novo, apenas a partir de agora, deste momento.
20-09-2001
Hoje vou escrever pouco. Porque é tarde e porque também não me aconteceu nada de especial. Manhã sem registos. Almoço em casa de primos .Linguiça e inhame. Vinho de fabrico caseiro, o melhor do Pico, garantiu o meu primo. Mas, em S. Mateus, o outro primo dizia o mesmo. E o meu padrinho teimou que o dele, só feito de uva Isabel, era superior a todos. Ah, já me esquecia do primo das Sete Cidades que não deixava os créditos por mãos alheiras. Mas esse também fazia verdelho, o melhor vinho de aperitivo do Mundo e isso digo eu.
Finalmente comprei os jornais locais, O Telégrafo e o Correio da Horta. Minguados de páginas. Que pena, pensava que tinham crescido. Acho até que têm menos conteúdo, mas pode ser impressão minha. Numa cidade com tanta vida cultural, com tanta gente ligada à escrita, gostava de ter sentido a mão mais pesada ao pegar-lhes, o pulsar da ilha na sua leitura. Perdoem-me, porque não conheço as dificuldades, mas tentem lá fazer um esforço, espevitem essa gente que gosta e sabe escrever e, por favor, não se diminuam com a presença dos jornais do continente. Há espaço para todos.
Museu da Baleia, à tarde. Uma visita obrigatória, onde se nota o esforço do Governo Regional em preservar a memória da caça ao cachalote. Um antigo baleeiro explicando. Do modo que só ele consegue. Conhecedor, aberto, apontando ele próprio as lacunas que iriam ser colmatadas, como a ausência de notas explicativas e de apetrechos. Dá gosto conversar com gente assim. Nunca tinha entrado nas instalações da antiga fábrica da baleia, no Monte da Guia, ao lado da praia do Porto Pim. Mas lembrava-me da rampa, de ver puxar os cachalotes e dos homens a esquartejá-la. Até de um ou outro tubarão que por ali rondavam, chamados pelo sangue que corria para o mar. Lembrança de uma praia que poucas vezes frequentei, já que o meu pouso habitual era a da Alagoa. Mas ia ali, de vez em quando. Mais do outro lado do monte, apanhar musgão, que vendia num barracão ao fundo da praia. Uma outra receita do verão, mais esporádica e sem grandes emoções, a não ser o perigo de uma moreia, pronta a descascar um dedo.
Visitando o museu, ainda me fui lembrando dos foguetes disparados da torre de vigia de S. Mateus, no Pico, replicados por outros no porto de S. Caetano. E os homens a correr, das terras para o mar. As mulheres ao encontro, com o farnel. E o bote descendo a rampa sobre cepos, untados com cebo. Eram uma meia dúzia. Retirados da popa e colocados à proa, numa movimento rápido e constante, para a quilha ir escorregando por ali abaixo. Junto à água o bote parava, esperando o resto da tripulação, os que vinham de mais longe. Depois fazia-se ao mar, saltavam os remos e deslizava pela água elegante, cadenciado, ganhando velocidade. Se a baleia avistada estava perto, seguiam pelos próprios meios. Se longe, lá vinha a lancha a motor ao encontro, enfileirando os botes que ia apanhando pelo caminho. Havia várias. Depois da caça, umas rebocavam os cachalotes para a fábrica, de óleo e farinha para adubo, como a que visitei hoje. Outras levavam os botes de volta, mas nem sempre. Se a faina rendia, ficavam ocupadas com o reboque das presas. Os botes tinham de regressar à vela ou a remos. Eram homens rijos que não tinham direito a pensar no cansaço de muitas horas de lutas com aqueles gigantes. Só em terra, depois de varar e lavar o bote, podiam finalmente descansar. Não se ganhava muito, mas sempre era um complemento à terra.
Hoje sai-se para o mar para contemplar as baleias, navegando lado a lado. Apesar do tamanho, são dóceis. Inteligentes. Entenderam que a caça de outrora fora uma necessidade. O homem dos Açores nunca foi inimigo dos cachalotes, respeitavam-nos. Na luta, caçavam mas também morriam. Era a sobrevivência. O antigo baleeiro guarda recordações dessa altura, mas também recentes. E desta fala como só consegue falar quem conhece bem as baleias. Depois da caça, vestiu o fato de mergulho e nadou ao lado delas, talvez tentando fazer-lhes entender que noutros tempos tinha de ser, agora eram iguais, naquele mar que era de todos, o mar dos Açores. E elas sabiam, compreenderam. Agora convivem com quem as quer visitar, lado a lado. É uma prova de amor. Porque o mar dos Açores, o meu mar, tem destas magias.
Ainda comprei uma lembranças e visitei umas amigas, antes de vestir os calções e mergulhar no sofá da minha mãe, a ver as desgraças de outros mundos, pela televisão. À noite, nova visita. Aos amigos que me emprestaram o carro. Vivem no Farrobo, numa vivenda óptima, bem pensada. Gente de trabalho, divertida, que gosta de viver. O filho estava na Internet. Pedi para ver um site, o da Bolsa. Desgraça. Lá vão os meus pobres tostões por entre os escombros das Twin Towers. Mas que importância tem isso, comparado com os problemas que o Mundo hoje vive... Nesta calmaria dos Açores, onde não sei ainda se dão valor à qualidade de vida e às potencialidades da terra, a recessão que se adivinha pode fazer destas ilhas um paraíso... Gostava de estar enganado...
Vou pensar nisso depois. Agora quero guardar bem a imagem da cidade da Horta, vista da Espalamaca, numa noite, finalmente, de céu limpo. E do Pico, quase descoberto. Assim, até o canal parece mais estreito, com a Madalena quase a um palmo de distância. E o mar, que agora adormeceu, ronrona como um rafeiro, lambendo a lava. Acho que amanhã vou tentar apanhar umas lapas... E chega de conversa, que já escrevi demais.
21-09-2001
Penúltimo dia. Logo após o pequeno almoço, ponho-me a caminho da praia da Alagoa. Levo uma faca, umas sapatilhas e um saco de pano, tudo dentro de outro saco, de plástico. O fito são as lapas. As lapas, que mania recorrente. Mas ainda não seria hoje. O mar estava quase calmo, mas a maré cheia. O mar dos Açores resolveu esconder-me as lapas. “- Vingativo, hem!...”. Tudo bem, vou embora sem comer lapas, paciência.
Almoço de linguiça e inhames. Ementa de três dias seguidos. Bom, pelo menos disto mato saudades. À tarde um passeio até à Caldeira, bonita como sempre. Quase me apeteceu descer até à lagoa, mas não me aventurei. Ainda se anda um bocado até aqui de automóvel. Mas já fiz o mesmo percurso a pé, várias vezes, e desci. Horas e horas de caminho. Ida e volta. Nem que me pagassem, faria isso agora. A verdade também é que me sinto cada vez mais cansado. Acho que estou pronto para regressar a casa. A Lisboa. Sim, porque a minha casa agora é a cidade das sete colinas. Reencontrado com as raízes, comigo mesmo, vencidos fantasmas, sei que o meu lugar não é aqui. Prendem-me aqui as memórias, mas é com Lisboa que tenho uma relação adulta. Foi onde resolvi que ficava. O que não quer dizer que não me possa fixar noutro sítio qualquer, mesmo aqui nos Açores, mas por opção de trabalho ou de vida, não por sentimentalismo. Acho que nisso sou desprendido, adaptando-me com facilidade, ou não fosse açoriano.
O jantar em casa em outra prima. Muitos primos e primas tenho... E mais amigos ainda, mas entendi que, desta vez, deveria dar prioridade à família. Por a ter no sangue mas também porque só ela me poderia devolver as raízes, permitir o meu reencontro. Ainda a caminho, outro colega, de liceu, um pouco mais novo. E lá vieram as recordações, os nomes, as diversões. Fazia-mos algumas, sem consequências para ninguém, mas com alguma piada. Ao passar a ponte da Conceição, vi-me ali numa noite, enrolando linha de coser de um lado ao outro, até esvaziar o carro surripiado à minha mãe. E o homem da moto, ao sentir-se enredado, como numa teia de aranha, atónito... Nunca deverá ter entendido o que lhe aconteceu nessa noite. E nós, escondidos, contendo as gargalhadas até que ele se foi.
De regresso, o irmão de outro colega, colega mais velho, um dos responsáveis pela Mocidade Portuguesa e comandante de acampamentos. E lembrei-me de quando me deram as divisas de chefe de quinas e me atiraram ao mar, como baptismo, nas férias da Páscoa. Eram divertidos os acampamentos. Até inimigos, com espingardas de pressão de ar, tivemos, vencidos por um destacamento que os apanhou pela retaguarda, numa manobra militar improvisada mas eficaz. Por aqui nada estava politizado. Claro que as formaturas e a doutrina lá estavam, a que propositadamente me baldava, encharcado da água do mar que galgava a avenida agora rebatizada de 25 de Abril. “- Vai pra casa, antes que apanhes uma pneumonia!”. Mas os acampamentos e convívio não tinham nada de político. Eram saudáveis. E era tão novo. Sabia lá o que isso era...
Hoje é que não escrevo mesmo mais. Vou deitar cedo. Repor o sono em falta. Amanhã ainda estou cá e há afazeres sociais a cumprir.
22-09-2001
Visitas, visitas. Despedidas rápidas que não sou de grandes falas. Almoço no Capote, sobre a avenida marginal, a 25 de Abril. Prepara-se um regata, várias. Optimists, lá ao fundo talvez um 720. Saudades da minha chata, do tamanho de um Lusito que, com pouco vento, levava mais tempo entre a doca e a praia da Alagoa que a Espalamaca entre o Faial e o Pico, com ida e volta. Mas navegava, lá isso navegava.
Fiquei um pouco desiludido. Esta levo na bagagem, como um engulho. Não comi lapas. Afinal a minha mãe tinha-as encomendado como surpresa. Mas o homem não apareceu. Nem homem nem lapas. Deve ter tido medo do mar. Está com vaga grande, intermitente. Não permite, acredito, apanhar lapas por terra. Mas pelo mar, Santo Deus, tantas vezes que apanhei lapas com mar bem pior. Contratou o homem errado, a minha mãe. Ah, se tivesse o meu equipamento..., ainda sobravam lapas para dar à família e aos vizinhos. Ironia do destino, no restaurante há lapas congeladas. Onde já se viu... Lapas congelas e para grelhar. A lapa quer-se fresca, comida no momento, crua. Basta um concha para retirar o conteúdo de outra e assim por diante. Lembro-me dos continentais que faziam cara de enjoados. Para piorar, ainda se lavavam as lapas em água doce. Não sabiam a nada. Mas aprendiam a gostar. Raio de coisa, nem uma lapinha minúscula para provar. Tivesse eu equipamento...
Mas deixa para lá. São horas de fazer a mala e esperar o transporte para o aeroporto. Ainda este ano hei-de comer lapas no Algarve e gozar com a cara de espanto dos pescadores a olhar para mim, incrédulos, vendo-me comê-las tal como a natureza as criou. Não sabem comer lapas como os açorianos, não as saboreiam. A minha mãe diz que me manda lapas pelo próximo portador, mas não quero. Quero-as frescas, do momento. Isso é que são lapas!
Vou embora. Falta pouco. Já escrevi de mais, já me repeti muitas vezes, sei. Fui escrevendo como sentia e as recordações misturam-se, interligam-se, refazem-se. E fica muito por contar. O Liceu, as mascaradas do Carnaval... Sei lá, tanta coisa. Não me apetece escrever memórias, apenas impressões. As que me tocaram neste regresso de filho pródigo aos Açores. Vou embora, vou partir, como diz a canção. Mas fico agora. Desta vez fico. Sem fantasmas, sem receios. Fico porque quero ficar. Ligado aos Açores, ao Pico, ao Faial. Fico como deve ficar um açoreano, ligado à sua terra. E é tão perto. A duas horas de Lisboa. Menos do que o tempo que levo até ao Algarve. Tenho de vir mais vezes, mas não em romaria. Para sentir, viver. Para me reconciliar definitivamente com o mar, a minha paixão de sempre. Acho que fizemos as pazes. Olhei para ele, num último adeus, sondando-o até às profundidades. Ele respondeu com um salpico, ronronando... É o meu mar, o mar dos Açores.
Mais despedidas. Não gosto de despedidas. Na despedida perde-se qualquer coisa que pode nunca mais se encontrar. Gosto apenas de encontros, de reencontros. Acresce a algo que já se tem. É recomeçar do que ficou. Basta não perder nada para ficar tudo. É disso que eu gosto. Só aceito despedidas que digam “. Até logo!”. É como me quero despedir das pessoas e dos Açores. “- Até logo!”.
..........
Deve ser da altitude. 11.277 metros, com 52.º graus negativos. Ou do ar que me sai pelos ouvidos, ao apertar o nariz. Mas estou de novo de cabeça vazia. A meia hora de Lisboa. Volto a casa. Já tinha decidido que Lisboa era agora a minha casa, apesar de ter ficado nos Açores. Como quem fica quem parte, mas sabe as suas origens. Já comia linguiça com inhames, em vez desta refeição de treta. Não entendo, mas quase toda a tarde andei enervado. Agora, que me sinto melhor, tento perceber. Mas não atino. Tenho mesmo a cabeça vazia.
Daqui a pouco avistarei Lisboa. Não é tão bonita quanto os Açores. Já não é tão bonita, para ser mais objectivo. Mas é o lugar onde vivo. Estrangeiros, muitos, neste voo. O puto de cabelo loiro, eriçado como uma crista de galo estremunhado, não pára quieto. Mexe em tudo. Passa debaixo das pernas do pai, bloqueia o corredor. Desinibido, de chucha na boca. O mapa no LCD, a mostrar o percurso. Parece tudo tão perto... Horta, Funchal, Casablanca, Marraqueche, Faro, Lisboa... Mas há o mar. Muito mar a separá-las.
Já desce. Os ouvidos tampam. A temperatura sobe. Estou quase em casa, ao cabo de uma semana de emoções fortes. Percorri o passado, exorcizei demónios. Era isso que queria. Ficar bem comigo mesmo, reencontrando-me nas minhas raízes, no meu mar, o mar dos Açores. Acho que era isso que procurava. Foi o que encontrei, tanto quanto entendo o que me aconteceu. Era necessário, inevitável. Só faltou sentir o mar envolver-me. Ficam os salpicos...
Estou quase a aterrar. Cessa aqui a escrita, este diário possível. Fim de viagem. Lisboa... É aqui que vivo agora. “- Açores, até logo!”.
Faial/Pico, 14 a 22-09-2001